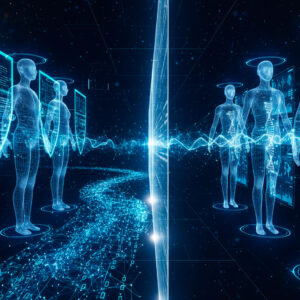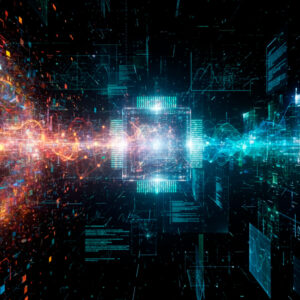Em junho de 2025, surgiu no Spotify uma “nova” banda de rock com estética dos anos 60, chamada The Velvet Sundown. Em apenas um mês, o grupo atingiu mais de 1 milhão de ouvintes mensais, impulsionado por sua faixa de estreia “Dust on the Wind”, que chegou ao topo do Viral 50 na Suécia e ultrapassou 1,2 milhão de streams logo nos primeiros dias.
Mas havia um segredo por trás daqueles rostos sépia e vozes hipnóticas: nenhum membro existe de verdade. The Velvet Sundown é um projeto 100 % gerado por IA, com música, letras, vozes e imagens produzidas por ferramentas como o Suno, orientadas por uma direção criativa humana
Em poucas semanas, foram lançados dois álbuns — Floating on Echoes (5 de julho) e Dust and Silence (20 de junho) — e há um terceiro álbum agendado para 14 de julho, o que reforça o potencial da IA para criar conteúdo em escala industrial.
Segundo a descrição oficial da banda (agora atualizada), trata-se de uma provocação criativa:
“The Velvet Sundown é um projeto de música sintética guiado pela direção criativa humana, composto, dublado e visualizado com o apoio da inteligência artificial. Não é um truque – é um espelho. Uma provocação artística contínua, projetada para desafiar os limites da autoria, da identidade e do futuro da própria música na era da IA.”
Os criadores — ainda não identificados — montaram o projeto com duas motivações principais:
Escalar a geração musical (lançando três álbuns em menos de seis semanas);
Provocar a cultura e a indústria musical a repensar conceitos como autoria, autenticidade e remuneração de artistas reais
Direitos autorais e ética: o dilema do “roubo silencioso”
Nos últimos meses, duas plataformas de geração musical por IA ganharam os holofotes — e não apenas pelos hits criados: Suno AI e Udio.
Esses aplicativos permitem que qualquer pessoa crie músicas completas em segundos, apenas digitando comandos como: “pop triste sobre saudade com voz feminina suave”. A IA gera melodia, letra, voz e arranjos sem qualquer conhecimento musical por parte do usuário.
Mas o preço da praticidade chegou em forma de processos bilionários. Em junho de 2025, as gravadoras Sony, Universal e Warner moveram ações nos EUA contra as duas empresas, acusando-as de treinar seus modelos com milhares de faixas protegidas por direitos autorais, sem licenciamento. O argumento: as IAs conseguem reproduzir estilos e timbres de artistas reais — mas sem pagar por isso.
Elas exigem indenizações de até US$ 150.000 por música gerada (CNN Brasil). Outros casos, como o processo dos dubladores contra a plataforma Lovo, mostram que nem mesmo a voz humana está segura: ela pode ser capturada, sintetizada e vendida — sem autorização.
Por outro lado, há uma ironia: nos EUA, obras criadas exclusivamente por IA não têm direito autoral garantido, por falta de “intenção criativa humana”.
Ou seja: a IA pode usar o trabalho de humanos como insumo… mas os humanos não têm como proteger o que ela produz com isso.
A discussão está só começando. Mas a sensação é clara: estamos diante de um novo tipo de pirataria — legalmente turva, tecnologicamente sedutora.
O declínio da qualidade musical humana
Mas talvez o problema não esteja só nas máquinas.
Estudos recentes mostram que, desde os anos 2000, há uma homogeneização crescente na música popular: menos variação harmônica, vocabulário mais limitado, produção mais comprimida e estrutura previsível.
Um artigo da Scientific Reports revelou que músicas lançadas entre 2000 e 2010 caíram significativamente em complexidade melódica e harmônica, e aumentaram em repetição (Serra et al., 2012).
Isso não é só uma questão técnica: é um reflexo cultural.
A indústria passou a premiar eficiência acima de expressão. Músicas de 2 minutos e meio, com refrões simples, loops prontos e fórmulas virais. O objetivo? Maximizar os streams, não provocar emoção duradoura.
A IA apenas entendeu a lógica e entrou no jogo.
Ela não empobreceu a música. Ela aprendeu com o que a música se tornou.
Quando dizer a verdade era arriscado, artistas falavam por entre metáforas
Contrastando com o presente, os anos 60 e 70 — mesmo sob ditaduras e censura — foram marcados por uma explosão criativa movida por metáforas, coragem e experimentação.
Artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Raul Seixas não podiam dizer tudo abertamente. Por isso, inventavam formas de dizer o indizível. Usavam camadas poéticas, ironias, duplos sentidos — forjando uma arte que ultrapassava as palavras.
A censura era brutal, mas paradoxalmente, forçava a arte a pensar, codificar, resistir.
O resultado foram obras que ainda hoje nos desafiam, emocionam e educam.
Hoje, com total liberdade de expressão e infinitas ferramentas, parece que perdemos a urgência de criar com propósito.
E, nesse vácuo criativo, surgem artistas digitais que geram “emoções simuladas” — calculadas para parecerem profundas, mas feitas por algoritmos que nunca sentiram dor, nem saudade, nem amor.
O problema não é a IA. É o nosso silêncio criativo.
The Velvet Sundown é apenas o começo.
Bandas geradas por IA já estão nos palcos virtuais. Vozes sintéticas vencem concursos. Letras feitas por robôs entram em playlists de meditação, pop romântico e gospel.
Mas talvez o mais chocante disso tudo seja o nível de aceitação.
A pergunta que fica não é se a IA vai substituir a arte humana.
A pergunta é: por que a arte humana está se deixando substituir com tanta facilidade?
A charge que acompanha esse post é uma provocação visual — mas também uma confissão.
Ela mostra como o público rejeita o humano raso e se encanta com a IA refinada.
Porque no fim das contas, não é a IA que ameaça a arte.
É a nossa preguiça de sentir, pensar e criar que está deixando a IA brilhar mais do que deveria.
E você?
Já se emocionou com uma música sem saber se ela foi feita por um robô?
Você ainda consegue diferenciar emoção real de performance algorítmica?
Deixe sua opinião nos comentários. E se essa reflexão te pegou, compartilhe.
Talvez seja hora da arte humana reaprender a lutar pelo seu lugar.